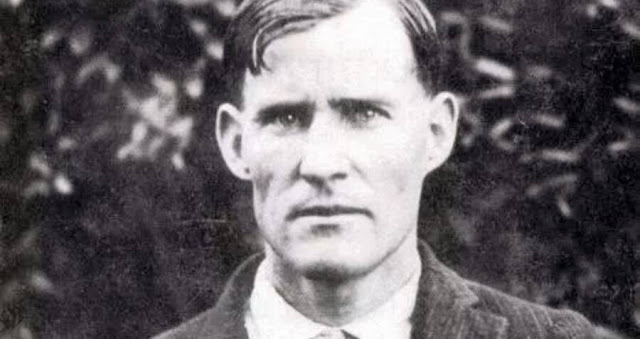As atividades ao ar livre, especialmente os percursos pedestres, têm conquistado um número crescente de entusiastas em Portugal, proporcionando benefícios significativos para a saúde física e mental, além de promoverem um contacto íntimo com a natureza. Contudo, é crucial reconhecer que tais atividades não estão isentas de riscos. Compreender as causas dos acidentes, identificar os incidentes mais comuns e adotar medidas preventivas são passos fundamentais para assegurar uma experiência segura e agradável.
 |
| Caminhante numa levada na Madeira (fonte: bookatrekking.com) |
Conceitos Fundamentais: Perigo, Risco e Vulnerabilidade
Antes de analisar as causas dos acidentes, é essencial compreender três conceitos fundamentais: perigo, risco e vulnerabilidade.
- Perigo refere-se a qualquer elemento ou situação que tenha o potencial de causar danos. No contexto dos percursos pedestres, isto pode incluir terrenos acidentados, intempéries, animais selvagens ou falhas na sinalização.
- Risco é a probabilidade de um perigo causar um acidente, dependendo de fatores como a experiência do praticante, a utilização de equipamento adequado e as condições ambientais.
- Vulnerabilidade diz respeito à suscetibilidade de um indivíduo ou grupo ser afetado negativamente por um risco. Um praticante pouco experiente, sem conhecimento das condições do percurso e sem equipamento adequado, é mais vulnerável do que alguém preparado e experiente.
Compreender a interação entre estes três fatores permite adotar estratégias eficazes para minimizar a ocorrência de acidentes e melhorar a segurança em percursos pedestres.
Teorias sobre a Causa dos Acidentes
A prevenção eficaz de acidentes requer uma compreensão profunda das suas causas. Diversas teorias foram desenvolvidas ao longo do tempo para explicar a ocorrência de acidentes. Entre as mais reconhecidas está a Teoria do Dominó, proposta por Heinrich em 1931. Segundo esta teoria, os acidentes resultam de uma sequência de cinco fatores interligados:
- Influências ambientais e sociais: Fatores culturais, educacionais ou ambientais que influenciam os comportamentos dos praticantes.
- Falta de conhecimento ou erro humano: Deficiências individuais, como falta de atenção ou desconhecimento das condições do percurso.
- Atos inseguros ou condições perigosas: Comportamentos imprudentes ou ambientes que apresentam riscos significativos.
- Acidente: O evento resultante da combinação dos fatores anteriores.
- Lesão ou dano: As consequências físicas ou materiais do acidente.
Outra abordagem relevante é a Teoria da Transferência de Energia, que postula que as lesões ocorrem devido a uma transferência descontrolada de energia entre uma fonte e um receptor. Esta teoria enfatiza a importância de identificar fontes de energia potencialmente perigosas e implementar barreiras ou medidas de controle para minimizar o risco de lesões.
 |
| Sinalização de percursos pedestres em Arões, Braga (fonte: itineris.pt) |
Estrutura dos Acidentes em Percursos Pedestres
A compreensão da estrutura dos acidentes é essencial para a implementação de medidas preventivas eficazes. De acordo com a literatura especializada, as causas dos acidentes podem ser categorizadas em dois grupos principais:
- Causas Imediatas:
- Atos inseguros: Comportamentos inadequados dos indivíduos, como desatenção, negligência ou falta de conhecimento.
- Condições inseguras: Ambientes que apresentam riscos, como trilhos mal sinalizados ou superfícies escorregadias.
- Causas Contributivas:
- Fatores organizacionais: Falta de sinalização adequada, deficiências na manutenção dos trilhos ou insuficiência de informação aos praticantes.
- Fatores ambientais: Mudanças climáticas súbitas, desmoronamentos de terrenos ou presença de animais selvagens.
- Condição física e mental do praticante: Estado de saúde, fadiga ou stress que podem comprometer a capacidade de realizar a atividade de forma segura.
A interação desses fatores pode culminar em diferentes tipos de acidentes, resultando em lesões ou danos materiais.
Acidentes ou incidentes mais comuns
Entre os acidentes mais frequentes em percursos pedestres destacam-se:
- Entorses e distensões musculares: Resultantes de movimentos bruscos, terrenos irregulares ou calçado inadequado.
- Quedas: Devidas a escorregadelas em superfícies molhadas, pedras soltas ou raízes expostas.
- Desorientação e perda do caminho: Especialmente em trilhos mal sinalizados ou quando não se possui mapas ou dispositivos de orientação.
- Hipotermia ou insolação: Causadas por exposição prolongada a temperaturas baixas sem proteção adequada ou a calor intenso sem hidratação suficiente.
- Picadas de insetos ou mordeduras de animais: Ao atravessar áreas com fauna potencialmente perigosa.
Cuidados a ter e como evitar acidentes
Para minimizar os riscos associados aos percursos pedestres, é aconselhável adotar as seguintes medidas:
- Estudo prévio do itinerário: Antes de iniciar a caminhada, informe-se sobre o percurso, consulte mapas, guias e previsões meteorológicas. Esta preparação ajuda a evitar surpresas e a planear adequadamente a atividade.
- Avaliação das capacidades físicas: Escolha percursos compatíveis com o seu nível de preparação física. Não sobrestime as suas forças e lembre-se de reservar energia para o regresso.
- Equipamento adequado: Utilize vestuário e calçado apropriados ao tipo de terreno e condições climáticas. Botas de caminhada com bom amortecimento e sola antiderrapante são recomendadas. Leve também uma mochila com água, alimentos energéticos, agasalhos, protetor solar e um estojo de primeiros socorros.
- Acompanhamento: Evite caminhar sozinho. Ter companhia aumenta a segurança, especialmente em caso de emergência.
- Informar terceiros: Comunique a alguém o percurso que irá realizar e a hora prevista de regresso. Em caso de atraso ou incidente, essa pessoa poderá alertar os serviços de emergência.
- Atenção às condições meteorológicas: Verifique as previsões antes de partir e esteja preparado para mudanças súbitas. Se as condições se deteriorarem durante a caminhada, considere regressar pelo mesmo caminho.
- Manter-se no trilho: Siga os percursos sinalizados e evite atalhos. Isto reduz o risco de se perder ou de encontrar terrenos perigosos.
- Evitar distrações: Durante a caminhada, limite o uso de dispositivos eletrónicos e esteja atento ao ambiente circundante. A distração pode impedir a percepção de sinais de perigo, como a aproximação de veículos ou animais.
- Utilização de bastões de caminhada: Estes auxiliam na estabilidade, especialmente em terrenos irregulares ou com desníveis acentuados, e ajudam a reduzir a carga nas articulações.
- Respeito pela natureza e sinalização: Não danifique a flora ou fauna local, não abandone lixo e respeite a sinalização existente. Estas atitudes contribuem para a preservação dos trilhos e para a segurança de todos os utilizadores.
 |
| Equipamento para caminhadas (fonte: outdooractive.pt) |
Em caso de acidente
Se ocorrer um acidente durante a caminhada:
- Proteger: Assegure-se de que a área é segura para prestar assistência, evitando agravar a situação.
- Alertar: Contacte os serviços de emergência através do número 112, fornecendo informações precisas sobre a localização e estado da vítima.
- Socorrer: Preste os primeiros socorros dentro das suas capacidades, mantendo a calma e aguardando a chegada de ajuda especializada.
Bibliografia recomendada
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). "O que deve saber sobre atividades de ar livre." Este documento fornece orientações essenciais para a prática segura de atividades ao ar livre, destacando a importância de seguros adequados e medidas preventivas.
- Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). "Precauções e Conselhos aos Pedestrianistas." Apresenta normas de conduta para praticantes de percursos pedestres, enfatizando a importância de permanecer nos trilhos sinalizados e respeitar o ambiente natural.~
- Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). "Acidentes Domésticos e de Lazer: uma ocorrência em Portugal com...". Analisa a ocorrência de acidentes em diversos contextos, incluindo atividades ao ar livre, fornecendo dados estatísticos relevantes para a compreensão dos riscos associados.
- Turismo de Portugal. "Código de Conduta para Utilizadores de Rotas Pedestres e Cicláveis." Este código estabelece diretrizes para a utilização responsável e segura de rotas pedestres e cicláveis, promovendo boas práticas entre os utilizadores.
- Centro de Turismo do Oeste. "Guia de Passeios Pedestres." Oferece orientações sobre a realização de passeios pedestres, incluindo a avaliação de riscos e medidas de prevenção de acidentes, visando a segurança dos participantes.